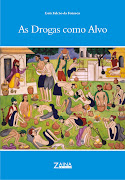A propósito da apresentação do livro A Sagração da Primavera, de Aurélio Lopes, convidei o escritor Domingos Lobo, para fazer o elogio do mesmo, uma vez que é um grande conhecedor da obra do autor.
Mas para espanto da vasta plateia, ouvimos este excelente texto;
Pediu-me o Garrido que viesse hoje aqui perorar sobre o teu livro " A Sagração da Primavera". O certo é que não me apetece: estou em dia não, em crise de identidade, aziago à brava e não me apetece falar de primaveras quando o cinza invade tudo, semáforos, jardins, ruelas de fado vadio e penadas almas. O frio cacimbeiro deste Dezembro, entra pelas frechas do bestunto e o coitado, assim exposto às intempéries, às maleitas do solstício de Inverno, põe-se com rebeldias, vai-se ao tapete e nega-se à reflexão. Estou hoje como aquela personagem de uma peça do Tchekov a quem pediram para falar dos malefícios do tabaco e se pôs a falar da vidinha minguada e desinteressante, carregada de angústias existenciais sem o Sartre ainda saber da poda e ir lá pedir-lhe direitos de autor: nem o Pessoa, que andava por essas margens, mas se acomodava a beber aguardente e a construir duplos de si mesmo. E, depois, em Lisboa, minha pátria das memórias infantes a esboroar-se no desencanto de uma dívida grossa, não me apetece tecer loas ao Povo, aos seus ancestrais hábitos e costumes Estou como a Rainha do Círculo de Giz Caucasiano, do Brecht, que gostava muito do Povo "mas o cheiro"...
Os teus livros, Aurélio sobressaltam-nos, falam-nos das pedras, de bosta nos lagedos, casas de xisto e adobe, de bois mansos, de crenças e mezinhas, dos ciclos de fertilidade, de sementeiras e colheitas: estou noutra, meu.
Os espanhóis, os holandeses e franceses que mourejem para nos encher as bancas dos supermercados, o resto são desvarios de antropólogos e nisso, por deformação profissional, não meto prego nem estopa. Quero-me manso, com ressaca suave que seja sequer a do Vasco Pulido Valente ao meio-dia, e para histórias de avoengos temos o Sousa Tavares que produz tijolos literários à velocidade do som e dá, ao que consta, de comer a muitos famintos portugueses desempregados e na penúria. Deixa-te de tretas Aurélio, essa das Maias não pega, a única Maya fértil que conheço é a cartomante e serve-nos o ego à mesa com destino, dores de cotovelo, sorte ao jogo e aos amores ilícitos, e chave certa no euromilhões e vem na "Pública" aos domingos de recato e madorra; é quanto basta para se ser feliz.
Para o meu lado revolucionário e épico guardo as imagens do Maio/68; Paris a arder, o Povo aos gritos libertários com os poemas de Mao a tiracolo ( não existem revoluções felizes, como sabes) e palavras de ordem descabeladas e urgentes escritas nas paredes da Sorbonne. E lembro outros Maios, estes primeiros, vividos no Rossio fugindo ao trote das bestas da GNR, bestas tout court, é evidente. Está no currículo e serve para exibir nestas enrascadas.
Agora, falar das tuas Maias, é que não: terreno em que não me atrevo, sou doutro departamento: das claridades solares do Eugénio de Andrade, do estilo levado ao ínfimo do prodígio da língua do Herberto - deixo-te as cantigas de roda, os cantos e as danças que enchem os ciclos da vida, todos o sabemos, origens nossas é evidente, saberes e lúdico misturados, devoções e poderes com espírito santo a velar por nós pecadores e eu, como o Mário do Campo Grande, agnóstico e republicano, a ler-te os calhamaços, bodo aos pobres, festas em louvor de crenças avoengas e tolhedoras da modernidade tecnocrática e consumista, diria o nosso primeiro se a tanto se atrevesse na liça tecnológica que nos vai desgastando o corpito e, pior, a dissoluta alma que penada anda. Nem com os teus caretos, face ao caos que antevemos, lá vamos, caro Aurélio. Nem com trinta dotes, confinados a morgado, por muito célere que seja, do Casal do Ventoso. O Casal Ventoso que sabemos e nos dói à brava, traz o cavalo espetado na veia até ao estrebucho e já não vai lá com modinhas de roda. Estamos, neste istmo miserável da Europa, como os teus "judas": suspensos de cordas bambaleantes e moídos de dívidas e de défice.
Para antropologias bastam-me os romances do Aquilino. Não vou por aí, meu caro, como escrevia o Régio. Nessa teia não me envolvo, é chão demais para inseguros pés. Imagino-te, a penantes, gravador a tiracolo, máquina fotográfica e livralhada congénere a calcorrear montes e vales, a ouvir velhas desdentadas cantando em agudo eslavo cantigas de crenças e de trabalho, que paciência de Job, meu caro, ou de Chinês que está mais à mão e é mais em conta, armado em Giacometti, mas com estilo, convenhamos, no Covão do Coelho, na aldeia da Glória, nas fraldas esquecidas de Trás-os-Montes, a broa e jeropiga, a perderes-te em solstícios e brumas, chás pró quebranto e mau-olhado, padre Fontes telúrico entre bruxas e lobisomens. Não dá com o nosso tempo, meu caro: somos da Baixa-Chiado, de torradinhas na Bénard, café na Brasileira, má-língua na Versailles, compras nas mercearias do engenheiro Belmiro e para as folgas do intelecto, temos as Fnac que nos cheiram a Sena e a Champ's Elisée. Os teus livros têm demasiado povo dentro, demasiado mundo nosso que queremos esquecer, como Pessoa também queria. Mas tu não deixas, teimas em invadir o nosso espaço com os ritos ancestrais da subversão, com a tradição portuguesa, coisa em desuso como sabemos: a ASAE anda aí a fechar-nos a tradição por todas as esquinas, para que a nossa tripa não rebente de sebo, dobrada com feijão branco em tascas manhosas, gravanços com bacalhau, repolhuda com mão de vaca e ginginha com elas. Enterramos o Entrudo: sem lágrimas e sem revolta. Falta-nos o O'Neill para pôr isto a jeito e enterrado nos sábados do nosso descontentamento e do nosso caos colectivo e nem uma gaivota cega voa nos deserdados e esquecidos céus de Lisboa. Qual Primavera, meu velho, qual Sagração. Aúnica que sabemos é a do Stravinsky, sentadinhos nas poltronas da Gulbenkian, ou no CCB, com o olhar vagamente enfastiado, tossindo à brava para disfarçar o desconforto, à procura de perceber aquilo, aquelas dissonâncias que levaram os broncos parisienses, em 1933, à pateada furiosa e agora nos amansam de reverência e prostação conformada, e as danças a que vamos são as da Pina Bausch, embora não percebamos patavina da simbologia implícita na desordem dos movimentos: mais fácil ao nosso olhar vadio, porque nos rói no sangue, as danças do teu Rancho de Covão do Coelho, com seus pressupostos identitários, com o cântico da terra à ilharga.
Às tuas metáforas do simbólico, do sagrado e do lúdico, contraponho a imaginação ultramontana de outros rios e gentes e queria ver-te, fatinho de caqui colonial, em busca de solstícios em "terra onde não há Primavera nem Outono, é tudo um sol em brasa", como escreveu Carlos Tê, entrando em musseques, nas casas de zinco do bairro Samba, a falar quimbundo com as pretas, quimbundo aprendido nos livros de Luandino Vieira que só ele e o Zeferino Coelho entendem, e a quitandeira da esquina, ou o pretoguês do Mia Couto, e extraíres da rezinga crioula cantigas de louvor e fertilidade.
Do teu mundo, dessa magia que anda à solta em milhares de páginas dos teus livros, sei apenas dos meus tempos de férias nas beiras do botas, ali ao rés do Dão, região demarcada de ditadores pacóvios, vinho e pão de milho: regressava de lá com a boca carregada de esses beatos e os putos da Escola do Arco do Cego rebolavam-se de gozo. Sei das minhas passeatas pela Serra de Arada, entre aldeias abandonadas, uma das quais com ressonâncias bárbaras Drave, os homens tinham fugido a salto para França e só as mulheres loucas restavam no meio do casario de xisto e sombras. Por lá ainda existem resquícios de altares pagãos, rusticidades urdidas no xisto e inscrições em lápides dos mortos eternos: " Que eu veja uma nova Terra e um novo Céu". Do fundo do vale ouviam-se gritos de mulheres doidas misturados com o tinir dos chocalhos. Não eram gritos de aflição nem de chamamento, apenas gritos "Uuuuuuuh!Uuuuuuu!. De repente, vinda do nada, uma mulher sozinha, que devia ter mais de 60 anos. Pensei, assustado, que fosse ela que gritava, mas não era. Perguntei-lhe que gritos eram aqueles e ela respondeu-me com a maior das naturalidades:"É uma pastora, está a gritar para manter os lobos afastados do seu rebanho". Agora, neste áís, por muito que gritemos, os lobos não nos largam: ferram-nos o dente até ao tutano - é a vida, como dizia o da Opus Dei.
Mundos nossos, Aurélio, que tu abarcas como poucos para tentares manter viva esta ideia perene de que um povo se constrói a partir do seu mais fundo chão. Mas nós, nesta urgência suicida de escreviver, vamos à vidinha e, desapossados das ferramentas essenciais, tropeçamos na montra da nossa ignorância e vamos definhando sem honra nem glória.
A Snu Abecassis dizia, ou alguém por ela, que nós só sairíamos do retábulo do nosso século XVI, quando a Europa nos entrasse casa dentro. A Snu vinha da Europa loira e liofilizada, onde não se cospe no chão nem os homens apertam, de cinco em cinco minutos, as partes, receosos de que a virilidade se ausente para outras paragens, onde não há cantos de trabalho, nem procissões, nem bodo aos pobres, nem crenças no Espírito Santo e na Redenção. Pois é, a Europa está aí já, em força, e nós continuamos calaceiros, medrosos do futuro e Chico-espertos. Não saímos do retábulo fadista, desgraçado e nevoento do nosso século XVI. E a culpa é tua que teimas em atirar-nos à cara com a carga ancestral e luminosa das nossas raízes e nós, canhestros, não sabemos pegar nessa bagagem cultural única e intransmissível, para nos afirmarmos como Povo singular, engenhoso, orgulhoso e nobre. Tardamos, meu amigo. Tardamos.
É verdade, não se esqueçam que o tabaco mata.
Foto Jornal O MIRANTE